terça-feira, julho 01, 2025
Não tinha uma pedra no meio do caminho
A sala de espera materializa o limbo. De olhos fechados, me vejo só no escuro e, diante das últimas experiências, isso não está entre as sensações seguras. Digito para Marluce: “Tô na fila do ultrassom. Tô com tanto medo de que acabe aparecendo alguma coisa...”.
Não é a primeira vez. Há alguns anos, uma dor aguda na lateral do tronco me colocou na mesa de outra clínica, sob a mão pesada do médico conduzindo o aparelho de um rim a outro e descendo até a bexiga. Tortuoso pela pressão, incômodo pela exposição do corpo a um completo desconhecido, não pelo diagnóstico. No geral, pedras não me assustam. Penso na beleza da malaquita, no manuseio e no acionar dos sentidos que canonizam: isto é pedra, existe, tem forma. E a imagem do cálculo de 5mm no rim esquerdo veio acompanhada do alerta de eventual expulsão.
Mas hoje não há objetividade ou espaço para metáforas, como não há nada incomum no meu sangue ― garantem as inúmeras repetições dos exames de rotina, os testes de HIV, sífilis e hepatites B e C nos últimos 7 meses. E se não há pedra no meio do caminho, só dor excruciante sem causa aparente, você teme hipóteses. Deixei de contar as entradas na emergência, os acessos, as bolsas de soro, as seringas acompanhadas de curativos redondos com estampa de palhaços (sempre causando alergia), as injeções, as reações ao Tramadol e, no fim, o retorno ao consultório apenas para pegar a receita de analgésicos e antiespasmódicos que nem exigem receita.
Marluce responde, a notificação me transporta para a sala de espera. Ouço reclamações sobre a demora do médico e o sistema de chamadas, pessoas insatisfeitas com o fato de a clínica priorizar os atendimentos particulares: “Eu não tenho mais condições de pagar plano de saúde. Tava pagando R$ 1.600 e cancelei. Tô aqui desde 7h da manhã, com fome, cansada... Quem depende do SUS só se lasca!” A paciência costuma ajudar em longas esperas, mas a tensão aumentada é um gatilho e, na dúvida entre buscar silêncio e colocar ansiolítico sob a língua, me levanto para ir ao banheiro.
Os banheiros ficam ao final do corredor, ao atravessá-lo percebo outra fila para o exame. As pessoas são chamadas em grupos de 8 e ficam nesse espaço, bebendo água e aguardando a auxiliar do médico dizer seus nomes. Encontro os banheiros à esquerda, dividindo espaço com o quartinho de vassouras e o depósito de descartes contaminados, à direita. Recordo imediatamente das avaliações sobre a clínica na internet, um comentário a comparava com clínicas clandestinas ― claro exagero de alguém que nunca precisou segurar a mão de uma amiga em ambiente insalubre durante um aborto ―, outros criticavam o estado dos banheiros, comprovadamente alagados e sem qualquer preocupação dos usuários em mantê-los limpos (o recepcionista precisou deixar seu posto 3 ou 4 vezes para enxugar o chão).
“Muito solícito”, o atendente aponta e legenda o banheiro masculino para mim. Ele sentiu essa necessidade por me ver de corpo inteiro ― skinny, baby tee e tênis ―, sem a parede da recepção entre nós? Dou de ombros, entro no banheiro sinalizado MASCULINO, fecho o vaso, cubro a tampa com papel, sento e me ponho a fazer esse exercício de respiração calculando o tempo para não demorar. Um dos maiores incômodos durante crises de ansiedade é ter seu silêncio interrompido, batidas apressadas na porta não ajudariam.
Mínimo controle, retorno à sala de espera, de onde talvez nunca tenha saído, e aos poucos aquela maré de gente dá lugar ao vazio.
Vazio. Tela branca (ou azul). O que há de errado? Nuvens escuras se acumulam nas copas das árvores através da janela. Mau presságio?
O som do meu nome interrompe os pensamentos, me levanto prontamente ― o recepcionista oferece um copo descartável, encho d’água e bebo por 4 vezes seguidas ― e caminho até o outro espaço. O ar-condicionado é impiedoso, lamento meu casaco pendurado numa cadeira em casa; lamento mais ainda a expectativa do gel frio no meu abdome sensível pela depilação e já arrepiado pela temperatura.
Os desvios involuntários de atenção me protegem do desconhecido, mas, como em autossabotagem, pesquiso no celular quais condições o exame pode detectar. Leio depressa e me arrependo na mesma velocidade. Apesar de ter passado a vida lidando com a finitude, com o esvair da saúde e da autonomia de pessoas amadas (minha avó, minha mãe), a possibilidade de encarar a outra face da moeda é aterradora. E se sair daqui com um diagnóstico negativo?
Me chamam novamente e, ao entrar na sala, encontro o médico sozinho. Muito gentil, me pede para subir a camisa e desabotoar a calça, insere toalhas de papel entre o cós e a minha pele. Enquanto calça luvas, ele pergunta o que me levou a fazer o exame, a gastro pediu, passo a falar em desatino das dores e de como às vezes até me impedem de andar, das entradas na emergência, da dificuldade para me alimentar, dos inúmeros medicamentos, do medo. Ele aplica gel com a almotolia ― o barulho de ketchup saindo da embalagem é engraçado, mas não impede o arrepio que me desce pela espinha ― e espalha por toda a extensão do meu abdome. Questiona se perdi peso: 12kg em 6 meses.
O silêncio mais absurdo e constrangedor corta a sala durante a eternidade.
“Não tem nada fora do normal, Hyago. Está tudo bem no seu exame. Pode levantar e passar na recepção pra pegar a guia do resultado.”
Eu removo as toalhas de papel da calça e tento limpar o gel grudento na minha barriga, peço mais algumas antes de ir embora, sinto a frustração encher os olhos. Agradeço e desejo bom trabalho.
Em looping, de volta à espera, pondero sobre ligar para a minha analista e marcar uma sessão extra, aliviado por não receber diagnóstico negativo, aflito por não receber qualquer diagnóstico.
Há outros exames por fazer, mais invasivos. Até lá, o medo segue informe, abstrato. E me faz uma tela branca (ou azul) ociosa, ansiosa como se no centro de um círculo de pessoas com pedras em suas mãos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
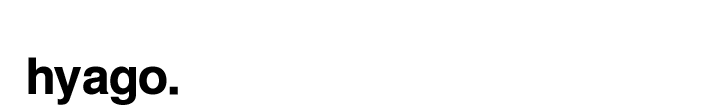

Nenhum comentário: