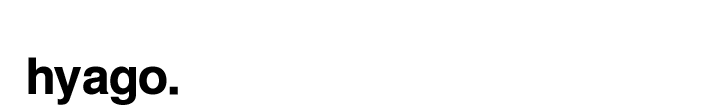Há sempre vivências das quais só é possível fazer parte por meio de uma posição muito específica, por vezes restrita à observação, e que pode incidir no conforto da visão autocentrada. Isso acaba sendo comum na relação de homens com a maternidade, que tende a ser observada nesse meio sem todos impactos da experiência para a mulher. Da mesma forma, há sempre a possibilidade de participar desse momento desenvolvendo respeito, sensibilidade e empatia.
Assim, quando o foco é a relação mãe-filho, qual posição nós mesmos e os homens ao nosso redor costumamos assumir? Como podemos entender o nosso lugar ― seja como pais, filhos, irmãos ― diante do processo da maternidade? E, acima de tudo, como enxergamos a relação das mulheres ao nosso redor com a acolhida ou a recusa da experiência? O que é possível aprender a partir desse movimento?
Em A filha única (Todavia, 2022), a mexicana Guadalupe Nettel ― vencedora dos prêmios Antonin Artaud, Gilberto Owen e Anna Seghers, finalista do Herralde ― oferece ao público leitor não só uma, mas três oportunidades de redimensionar o olhar externo para a maternidade. A partir das histórias de Laura, Alina e Doris, o romance apresenta diferentes perspectivas sobre essa vivência, trazendo aspectos comumente enevoados no imaginário popular pela mística da abnegação que paira a figura da mãe. E nesse contexto a preocupação com enxoval, móveis decorados e cor da parede abre espaço para escolhas de outra natureza, a das expectativas, das frustrações e do medo como problemas com os quais a mulher pode lidar de forma constante no quesito (não) ser mãe.
Acompanhamos a trama pelos olhos de Laura, mulher independente na casa dos 30, feminista convicta que decide retornar para sua terra natal após se submeter a uma laqueadura. Trata-se de opção interessante para a narração, pois demonstra como a decisão de não ser mãe influencia seus modos de perceber e lidar com os dilemas enfrentados pelas demais. Na relação com Alina, por exemplo, a recém-operada dispensa cuidados diferenciados, típicos da convivência compartilhada desde a infância, mas isso não a impede de projetar na melhor amiga os próprios receios, quando esta revela o desejo de engravidar. Nettel costura com precisão as relações entre as duas personagens, com intenções já bem demarcadas ― Laura intervém no próprio corpo para não ter filhos, Alina faz o caminho contrário.
Mediante procedimentos de inseminação, são diversas as tentativas até que Alina finalmente consegue engravidar. Dentre as três personagens principais, é através desta que a escritora latino-americana explora os efeitos da maternidade em sua dimensão processual, do início ao inesperado desfecho reservado para a nova gestante. Alina vivencia o abalo do desejo de ser mãe com um choque de realidade que se desdobra a ponto de deixar em suas mãos uma das escolhas mais difíceis no livro.
Concentram-se aqui o fato da personagem em questão ser casada ― via explorada pela autora para dar as nuances da maternidade inserida nesse contexto, trazendo aspectos relacionados à sororidade, autoestima e ciúmes ―; o desenvolvimento de um quadro de ansiedade associado ao consumo; e uma ambientação hospitalar que nos aproxima do incômodo das sensações. A interação médicos-paciente, inclusive, é outro ponto preciso da narrativa, que dela se apropria para navegar a disparidade das posturas de médicos e médicas diante de certo diagnóstico. Quais os limites entre a ética profissional e a sensibilidade de quem compartilha vivências?
Se Laura e Alina são o antes e o durante, Doris é o depois ― vizinha de Laura, é uma mulher viúva e mãe solteira que se vê às voltas com o filho Nico e seus acessos de raiva. Aqui a premiada autora se apropria da relação mãe e filho propriamente dita, conferindo a ambas as partes os resquícios de uma presença masculina violenta, cujos ecos ultrapassam os limites entre vida e morte, e tenciona os arranjos familiares tradicionais. Abre-se o espaço para a narradora, que assume o papel de mediadora de conflitos ao se aproximar de Nico na tentativa de aliviar minimamente o sofrimento de Doris. O modo como a figura de Nico “penetra” sua opção por não ter filhos é curioso, pois, embora o garoto personifique, em alguma medida, tudo de que abdica com a decisão, Laura nutre por ele um carinho especial que a faz considerar a possibilidade de "adotá-lo" em certa altura do livro.
Reforçando a afirmação de Virginia Woolf em Um teto todo seu, Laura opta por viver sozinha num apartamento para finalizar a escrita de sua tese de doutorado, ao invés de ficar com a melhor amiga ou mesmo com a mãe. Aliás, a trama se apropria da relação mãe-filha para identificar a incidência da maternidade idealizada também nesse âmbito, de modo que Laura compartilha reminiscências com a própria mãe. Esta que, alarmada pela notícia da laqueadura, se encontra com a ideia de não ter netos correndo por sua casa e vislumbra na relação da filha com Nico a concretização desse desejo.
Laura é a linha de costura na agulha de Guadalupe Nettel. É o fio condutor da trama, perpassando e experimentando, a partir de sua negação, a maternidade de diversas perspectivas. Tê-la como narradora enriquece o texto, tanto pelo frescor que confere à narrativa, desassociando-a do ideal de maternidade comumente reproduzido nos livros que se propõem uma abordagem mais superficial quanto por situar a discussão sob uma visão crítica.
Por tudo isso, para além dos contextos isolados a partir dos quais a leitura nos move a repensar o ato de (não) ser mãe, a posição tomada por Laura funciona como uma metáfora para o “olhar de fora”. Nesse sentido, trata-se de uma leitura que contribui para interromper o ciclo de naturalização da maternidade como requisito para que as mulheres se sintam felizes, plenas e completas, que invalida qualquer decisão contrária a essa estrutura.
É interessante como Nettel explora ausências e presenças masculinas, posto que são poucas as personagens do sexo masculino no texto. E essas “presenças” também são aplicadas como algo de uma metalinguagem, de modo que leitoras e leitores atentos as entenderão como mais um recurso muito bem aplicado. Através de presenças residuais e resquícios fantasmagóricos, ressalta a premência do olhar que toma a mulher como sujeito de direito e da promoção de apoio em suas decisões, bem como no questionamento da maternidade como única via de realização, como vivência que ratificaria a experiência de ser mulher.
Assim, A filha única constitui-se um convite para sairmos da zona de conforto, entendendo o quanto as mulheres têm tido o espaço relativo às decisões sobre seus corpos, seus caminhos e o curso de suas vidas negligenciado pelo poder público, pela sociedade como um todo e, muitas vezes, por aqueles mais próximos delas. É uma obra incisiva, um livro que todos os pais, filhos, irmãos e maridos deveriam ler para repensar privilégios, posturas e comportamentos ― esforço necessário no sentido de superar posicionamentos que reforcem os tabus em torno da mulher e da maternidade.
Mostrando postagens com marcador Resenha. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Resenha. Mostrar todas as postagens
domingo, abril 30, 2023
segunda-feira, dezembro 20, 2021
Entre a máquina de costura e a máquina fotográfica: uma resenha de "O lugar que somos" de Laryssa Andrade
“Durante a pandemia, fui atravessada por memórias não vividas por mim.O lugar que somos rememora, através de vestes e objetos, o espaço coletivo onde a história das mulheres da minha família se moldou desde 1940, sendo a costura o nosso símbolo de força, poesia, amor, dor, e sustento desde então.”– Laryssa Andrade sobre seu próprio documentário.
O lugar que somos (Maceió, 2021) é um documentário dirigido, roteirizado e montado por Laryssa Andrade, fotógrafa, escritora, pesquisadora em estudos sobre imagens e feminismos e integrante do Punho Coletivo – iniciativa de mulheres alagoanas produtoras de conteúdo audiovisual. O filme foi selecionado para a 12ª Mostra Sururu de Cinema Alagoano, sendo exibido em intervenções urbanas realizadas pelos bairros de Maceió como parte da sessão Sentir. Foi também candidato em votação popular no site do evento, onde permanece disponível para streaming. A obra orbita o lugar da costura nas vidas das mulheres da família de Laryssa, conforme alerta a sinopse.
O filme traz a prosa memorialística de Meran, Selma e Vilma em suas experiências com a costura, a princípio como objeto da curiosidade típica dos 4 ou 5 anos de idade, mas também enquanto exercício de distração, demonstração de afeto e ganha-pão, quando as preocupações se tornaram outras. Entre as Andrade o movimento da agulha e da linha é como sangue, um elo poderoso diante da certeza cabal do tempo: ele passa. E embora passe, o tempo não sai impune aos relatos daquelas mulheres. Elas insistem no tecer de suas vidas e conjuram uma sabedoria quase espectral, uma voz que não escutamos em momento algum no documentário, mas se faz ouvir pela apropriação do silêncio em recusa ao estatuto de memória – é Maria José, Dedé, como a chamam as consanguíneas, que cose suas narrativas como fazia com os vestidos que preparava.
 |
| Captura de cena do filme |
Em certa altura do filme tornou-se impossível não relembrar Bordado y costura del texto, artigo no qual Tamara Kamenszain relaciona escrita e espaço e trabalho domésticos a partir da ideia da mulher como sujeito responsável pela trama da história familiar. Aponta que mulher a escreve e/ou tece por meio das diversas atividades domésticas, dentre as quais a costura. Em nível abstrato, isso traduz o que no filme é o rigor da consciência expandida de dona Dedé, com suas percepções acerca de problemas da ordem do gênero e a compreensão de que, para ser “costureira de verdade”, era necessário lidar com a imposição do trabalho da casa, do cuidado com os filhos, tarefas tantas vezes usadas como chancela do ser mulher.
Aqui, contudo, não se fala de conformação, mas de certa rebeldia – ser costureira era necessário para ter o que comer e vestir, para dar de comer aos filhos e vesti-los também. Na ausência colocada pela partida do marido, uma das narradoras encontra na costura o espaço para reconhecer-se motor do futuro de sua família, essa responsabilidade imperativa que a fez recusar um convite para trabalhar num ateliê do Rio de Janeiro. São evidentes, portanto, os cruzamentos entre afetividade e classe nos olhares das mulheres com as quais lida Laryssa. E esses cruzamentos também estão presentes na força dela (que tem um apelido tão carinhoso quanto o de Dedé, Lary), pois sua opção pela máquina fotográfica ao invés da de costura demarca uma escolha de outra grandeza. Ela conhece o lugar de onde veio, sabe onde se encontra e tem suas lentes focadas onde quer chegar, mas é urgente a contação das histórias que seguram sua mão nesse percurso.
As mensagens nos alcançam por meio de um fio condutor muito próprio de alguém cujo olhar possui afinação poética, algo que não falta em Laryssa. Essa sensibilidade está presente desde o título do filme, que empresta um verso de poema de Ana Miranda: “E quando ali retornarmos/Verás que nunca nos fomos/Pois o lugar onde estamos/O lugar onde estaremos/É sempre o lugar que somos.” A diretora nos brinda com imagens de álbuns de fotografia, máquina e demais instrumentos de costura, roupas estendidas no varal e outras feitas em casa, de modo que, muito sutilmente, tudo ganha novas proporções com os relatos ao fundo. Há ainda outras imagens do cotidiano urbano intercaladas em momentos estratégicos, como convites para perceber a beleza desse espaço e como nele se costuram, diariamente, tramas infinitas; como se evocasse esse espaço para nos trazer para dentro, para esse lugar que todos nós, a partir de nossas experiências coletivo-individuais, também somos.
Enquanto neto de costureira, tendo crescido entre pilhas de Moda Moldes – cujos moldes eu abria como se fossem mapas de navegação para terras longínquas, e de certa forma eram mesmo – e observando a dinâmica do ateliê de minha avó, posso dizer que assistir O lugar que somos trouxe muitas memórias afetivas. Laryssa trabalha de forma tão especial com o poético e o político, guia a atenção do espectador exatamente para o lugar onde deseja que esteja e o faz como quem envia um convite cor-de-rosa embrulhado em papel de seda.
Se Dedé é linha e agulha, é também o lugar que são as Andrade; é ela quem traja primeiro a indumentária da costureira, ajustando-a para cada uma das que viriam depois. E se Laryssa é filme e foco, e talvez a primeira de sua família a substituir a máquina de costura pela fotográfica como objeto de trabalho, tem muito de Dedé. Arrisco dizer que foi com ela que aprendeu a “costurar”, pois, através do gesto do dedo no botão da filmadora, Lary captura a trama da vida das mulheres de sua família em um exercício que a coloca diante da própria história. Ambas, Laryssa e Dedé, nesse lugar que são, tomam para si a tarefa de manter viva uma tradição, de manter aceso algo grandioso e inexplicável – você pode chamá-lo de amor ou de luta.
quarta-feira, agosto 25, 2021
Fantasmas
tiro uma foto da sua janela
porque quero lembrar
como era essa brisa
pergunto se venta assim até no verão
como quem se prepara para os dias difíceis
diz que depende da direção dos ventos
nunca entendi como se usa uma bússola
penso que poderia ficar
aqui feito os que esquecem dos trajetos
indiferente aos movimentos obsessivos
poderia não insistir
aceitar mais um café
me entreter com o que há
nessa posição propícia
longe do que pode ser ou não certo
guardo o recorte azul
até a próxima
partida
conto mais com a nostalgia do que com a sorte
- Taís Bravo em Sobre as linhas extintas (Urutau, 2018)
Sinto falta de olhar o céu da tua janela. Saco o iPod do bolso para ouvir a mesma música e uso do pretexto para abrir a galeria na última imagem que guardei desse momento: raios de um sol recém-nascido atravessando brechas entre nuvens escuras. Pensávamos que naquele dia não choveria, mas essa acabou sendo uma das tantas previsões que não acertamos. Agora a cena exibe um retrato para além do céu diante da tua janela – é um prenúncio de sorte que, mais uma vez, não fui capaz de enxergar a tempo.
Nunca pensei que olhar o céu da minha própria janela seria tão difícil, não pelas lembranças do que fomos, isso não precisa de gatilhos. É impossível olhar o céu de agosto sem considerar as mesmas nuvens me perseguindo, sem contribuir com a chuva usando meus olhos. O resto é busca pela recuperação do tempo perdido, da visão de mundo real e daquilo que se partiu quando as cortinas blackout desse pequeno espetáculo se fecharam.
Não aceitarei nada menos que um sucesso de bilheteria.
Faço questão de que minha mãe repita a história do dia em que viu Ghost – do outro lado da vida a cada vez em que eu mesmo me preparo para assistir. Em 1990 ela e uma amiga foram à estreia no extinto Cine São Luiz, no centro da cidade, e as duas passaram horas na fila abarrotada de gente para comprar os ingressos. Quando finalmente conseguiram entrar no cinema, a amiga dormiu durante quase toda a sessão, enquanto minha mãe – em seu conjuntinho verde e suado – e o resto da plateia suspiravam a cada cena romântica.
Sempre que ouço esse relato me imagino um desses, suspirando e chorando copiosamente do começo ao fim. Hoje, já nos primeiros minutos do filme, quando uma Molly insone busca ocupar o tempo esculpindo argila em seu ateliê, já me dou conta dos olhos ficando marejados. E quando Sam a surpreende, sentando-se atrás dela e estragando o vaso que tomava forma apenas para reerguer o material na mais famosa dança de mãos da história do cinema... Antes dessa cena terminar eu já estou soluçando – aliás, quem pode resistir a atmosfera coroada pela Unchained Melody ao fundo?
Tudo isso funciona por se tratar de uma história de amor que ultrapassa as margens entre vida e morte, mas também como reflexo da conexão com o outro amado, uma das mais puras experiências humanas. Para minha mãe e eu, a clara emoção nos olhos fica por conta do acesso que esses "gatilhos" nos dão às memórias passadas e outras tão vivas que até parecem ter acontecido. Somos uma família com um histórico de insucessos amorosos em um ciclo onde as mulheres são sempre deixadas sozinhas e com ombros pesados.
Talvez seja isso o que faz Molly Jensen ser uma das personagens femininas mais interessantes do cinema dos anos 1990. Uma artista plástica cética e bem-sucedida que vê o amor da sua vida morrer em seus braços na noite em que lhe conta sobre o desejo do casamento. Molly segue sentindo tanta falta de Sam que se atém aos detalhes com um olhar que a impede de jogar fora os ingressos do jogo que os dois odiaram, o cachimbo improvisado que usavam para fumar. Ela é o arquétipo romântico que simboliza os desejos mais íntimos de todos nós, mesmo daqueles que os escondem por baixo de grossa camada de “personalidade”.
Uma das memórias de Molly que eu adoro relembrar é a do seu nome escrito na cueca do Sam – um recurso que eu mesmo usaria, sem sombra de dúvidas, e que soa ao mesmo tempo bobo e ansioso, afirmando algo como um pertencimento inerente. Se fosse real, com certeza ela teria engordado agendas com embalagens de bombons, postais, fotografias e recortes – assim como minha mãe em sua juventude, assim como eu até os dias de hoje. Seja numa cueca, seja na parte de trás de uma foto, às vezes o registro não é tudo o que nos resta daquilo que um dia foi a vida: fica ainda a incógnita do que fazer com ele (ou do que ele faz conosco).
A mãe de uma amiga muito querida me disse uma vez que a dor de perder alguém que parte desse plano é outra, muito diferente da dor de perder alguém que simplesmente decide deixar o espaço que ocupava antes. Isso porque nos dois tipos de luto choramos perdas, mas na perda de quem vai por desejo próprio há o problema da certeza de que ela permanece distante quando tudo o que se quer é que esteja perto. A assombração das possibilidades.
Me pergunto como Molly seguiria sua vida sabendo que nunca mais veria Sam, e como seria se, ao invés de ter morrido, ele simplesmente decidisse partir.
– Eu te amo, Molly. Eu sempre te amei.– Idem.– É incrível, Molly! O amor que guardamos, levamos conosco para sempre.
O diálogo final entre Molly e Sam.
*Este texto foi originalmente publicado na minha newsletter.
Local:
Maceió, AL, Brasil
sábado, janeiro 11, 2020
O ponto brilhante acima do ombro: uma leitura de "Brida", de Paulo Coelho
Em 3 de janeiro de 2020 eu decidi que leria a obra completa de Paulo Coelho. No dia seguinte fui ao centro da cidade e descobri, sem muita surpresa, uma prateleira dedicada ao autor num sebo. O estado de conservação e o número de repetições dos títulos – que também serviam de lembretes da popularidade e da vastidão da obra de Coelho – fizeram com que passasse algum tempo buscando os que leria primeiro. Preços abaixo dos R$ 10 elevando a dúvida a patamares desconhecidos e reforçando os sentidos da frase anterior.
Apinhado entre a prateleira de cima e a massa de livros abaixo, lá estava o que viria a ser o meu exemplar de Brida: uma edição de 2007, da Gold, com algumas manchas de umidade e um cardápio de saladas anotado na parte interna da capa (sugeria atum aos sábados). Na hora percebi que era parte de uma coleção vendida nos catálogos da Avon que recortava na infância. A ideia da leitura pareceu ainda melhor.
No dia 5 de janeiro eu concluía o livro. "Eu preciso mesmo ler tudo o que esse homem escreveu", pensei.
Publicado no ano de 1990 no Brasil, Brida (2007, Gold) é baseado, conforme sugere o prólogo, numa história real. A escrita de Paulo Coelho transita pelas dimensões da existência, espaços que dialogam na leveza da narrativa situando a trajetória da busca pelo sentido da vida. Há também essa definição do amor como meio de conexão que permite resgatar a unicidade da alma no encontro com a Outra Parte (aplicação do conceito de alma gêmea), que pode ser identificada pelo brilho no olhar ou por um ponto brilhante acima do obro, a depender da tradição seguida.
Brida, personagem que empresta nome ao livro, é uma mulher irlandesa de 21 anos que quer aprender magia. Sua evolução na história é similar à jornada do herói simbolizada no tarô e todos os dispositivos apontam para o crescimento pessoal. A personalidade de Brida é complexa e sensível, permitindo a experimentação das sensações com um rigor bastante específico; é o pilar que sustenta os desejos de realização astral em consonância com a materialidade da vida construindo a dinâmica de contestação entre o real e o que não se vê. As práticas esotéricas não acontecem aqui de forma gratuita, fixadas como são ao modo como se dá andamento à vida.
Demarcada pelas estações do ano, a jornada acontece entre agosto de 1983 e março de 1984: durante o verão e o outono, Brida se vê mergulhando na Noite Escura para emergir na descoberta entre o inverno e a primavera. Na Wicca os equinócios de primavera compõem um dos quatro grandes sabbats, sendo este o cenário para o clímax do livro. Essas são apenas algumas das menções à bruxaria presentes no texto. A mescla do paganismo e sua cultura com a simplicidade é um deleite.
A condição de mago de Paulo Coelho, certamente, põe à disposição material para a descrição dos ritos e para o resgate da tradição das bruxas, mas é surpreendente como ele lida com o feminino na narrativa. As mulheres de Coelho, penso, remetem à própria feminilidade do autor, já sinalizada em entrevista para a Folha de São Paulo em 2018. Outro aspecto extremamente significativo é o uso da imagem da bruxa com apelo diferenciado do que se costuma observar na cultura popular – mesmo para um livro da década de 1990, na qual tal imagem já era explorada de modo problemático, ainda que não como se faz na atualidade.
O culto às bruxas e a condução de personagens que são mulheres independentes e bem resolvidas concebem latência à força feminina no texto. Essa presença dissolve, de certo modo, a romantização comum da existência feminina quando o amor é universalizado com uma roupagem alheia ao mito romântico. A questão passa a ser tratada no campo da filosofia de vida.
Com isso o brilho no olhar ou o ponto luminoso acima do ombro da sua Outra Metade ressignifica a experiência como um encontro consigo, com o passado e com as possibilidades contidas no futuro -- e pode ser essa a lição que Brida tem para oferecer hoje.
Coelho convida ao autoconhecimento desdenhando de frases feitas, empregando linguagem convidativa e ritmo agradável sem abrir mão de tratar a complexidade da vida ou desconsiderar sua forma: um circulo perfeito, sem começo ou fim.
Apinhado entre a prateleira de cima e a massa de livros abaixo, lá estava o que viria a ser o meu exemplar de Brida: uma edição de 2007, da Gold, com algumas manchas de umidade e um cardápio de saladas anotado na parte interna da capa (sugeria atum aos sábados). Na hora percebi que era parte de uma coleção vendida nos catálogos da Avon que recortava na infância. A ideia da leitura pareceu ainda melhor.
No dia 5 de janeiro eu concluía o livro. "Eu preciso mesmo ler tudo o que esse homem escreveu", pensei.
* * *
"[...] Em certas reencarnações, nós nos dividimos. Assim como os cristais e as estrelas, assim como as células e as plantas, também nossas almas se dividem. "A nossa alma se transforma em duas, estas novas almas se transformam em outras duas, e assim, em algumas gerações, estamos espalhados por boa parte da Terra." (p. 35)
Brida, personagem que empresta nome ao livro, é uma mulher irlandesa de 21 anos que quer aprender magia. Sua evolução na história é similar à jornada do herói simbolizada no tarô e todos os dispositivos apontam para o crescimento pessoal. A personalidade de Brida é complexa e sensível, permitindo a experimentação das sensações com um rigor bastante específico; é o pilar que sustenta os desejos de realização astral em consonância com a materialidade da vida construindo a dinâmica de contestação entre o real e o que não se vê. As práticas esotéricas não acontecem aqui de forma gratuita, fixadas como são ao modo como se dá andamento à vida.
Demarcada pelas estações do ano, a jornada acontece entre agosto de 1983 e março de 1984: durante o verão e o outono, Brida se vê mergulhando na Noite Escura para emergir na descoberta entre o inverno e a primavera. Na Wicca os equinócios de primavera compõem um dos quatro grandes sabbats, sendo este o cenário para o clímax do livro. Essas são apenas algumas das menções à bruxaria presentes no texto. A mescla do paganismo e sua cultura com a simplicidade é um deleite.
"Quando Brida mostrou-se surpresa com o carvão e a colher de pau, Wicca disse que, na época da caça às bruxas, as feiticeiras eram obrigadas a utilizar materiais que pudessem ser confundidos com objetos da vida cotidiana. Essa tradição se manteve através do tempo, no caso da lâmina, do carvão, e da colher de pau. Os verdadeiros materiais que os Antigos usavam haviam se perdido por completo." (p. 93)
A condição de mago de Paulo Coelho, certamente, põe à disposição material para a descrição dos ritos e para o resgate da tradição das bruxas, mas é surpreendente como ele lida com o feminino na narrativa. As mulheres de Coelho, penso, remetem à própria feminilidade do autor, já sinalizada em entrevista para a Folha de São Paulo em 2018. Outro aspecto extremamente significativo é o uso da imagem da bruxa com apelo diferenciado do que se costuma observar na cultura popular – mesmo para um livro da década de 1990, na qual tal imagem já era explorada de modo problemático, ainda que não como se faz na atualidade.
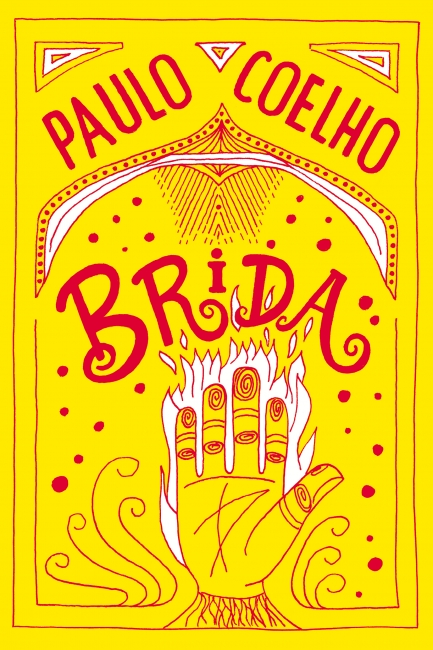 |
| Capa da edição mais recente de Brida, publicada pelo selo Paralela (Companhia. das Letras) em 2017. |
Com isso o brilho no olhar ou o ponto luminoso acima do ombro da sua Outra Metade ressignifica a experiência como um encontro consigo, com o passado e com as possibilidades contidas no futuro -- e pode ser essa a lição que Brida tem para oferecer hoje.
Coelho convida ao autoconhecimento desdenhando de frases feitas, empregando linguagem convidativa e ritmo agradável sem abrir mão de tratar a complexidade da vida ou desconsiderar sua forma: um circulo perfeito, sem começo ou fim.
sábado, setembro 14, 2019
Como se pesassem mil atlânticos, de Bianca Gonçalves
Estive lendo o livro de Bianca nos últimos dois meses. Minha relação compassada com a poesia refletida na extensão do exercício, além do propósito de fazê-lo durar – um poema aqui, outro ali e mais um acolá. Mas o livro por si só pede uma leitura mais lenta e atenta. Terminei com um gostinho de resenha na boca e resolvi escrever. Entrego algo entre um apanhado de impressões e sentidos e um ensaio de resenha (ando interditado), talvez muito mais daquilo do que disso.
Com vários textos em revistas e blogs pela internet, Bianca estreia em publicação impressa com Como se pesassem mil atlânticos (Urutau, 2019), trazendo as forças da memória, do corpo e dos sentidos. Todas presentes ao longo das três partes que compõem o livro.
Li “Mulher nova ordem mundial” – ao mesmo tempo seção de abertura e convite de permanência – como quem observa um quadro pintado com sinceridade. Versos sobre estender roupas no varal, soltar pipa e tatear o corpo na frente do espelho constroem uma mística que me fez sentir como se estivesse compartilhando memórias com uma velha amiga. Me parece o início de uma história despida na irregularidade das dores e delícias da vida contada em poemas. Dessa série de textos é “encontro com as pedras de v. woolf” que me toca de forma particular. A atmosfera melancólica estabelecida desde o nome, para mim, é um dos momentos mais bonitos do livro:
queria ficar em casa: cama limpa e camomila
os braços moles nus
soltos como vieram
e sairão deste mundo
Embora minha inclinação evidencie o melancólico, não é isso que dá o tom da obra. Penso as imagens do feminino e o erotismo fazendo as vezes como elementos que se encontram e distanciam na travessia dos mares de Bianca. “Twerk na calçada” coleciona parte disso somando questões contemporâneas. A bissexualidade em “outra quadrilha” e a emancipação evidente no divertido “gola ciganinha está mais a ver”, além dos aspectos culturais levantados em “aculturação” e, principalmente, “entre Paul Gilroy e o rap que não fizemos”. Este último mesclando pertencimento étnico ao afetivo entre dois corpos – o sentido é quase palpável:
mas teu corpo de homem também é uma ilha
cujas partes unidas são minhas reconhecidas
também são minhas as tuas ruínas
A referência ao oceano Atlântico acontece nesse poema e retorna no seguinte, “tua presença”, que empresta dois versos ao título do livro. As águas conduzem a lugares distantes, em termos geográficos e de tempo, mas também funcionam como metáfora para o peso de emoções, sentimentos e experiências de todo um povo negro. Tendo o Atlântico sua própria carga enquanto rota do comércio de escravos que desembocou na diáspora africana.
A seção que encerra o livro é “outra” que continua trazendo elementos afetivos aliados às questões raciais. São exemplos “museu afro brasil” e “necropolítica”, este de um eu lírico ciente das ameaças, uma mão estendida em resgate de águas agitadas:
escrever um poema a um homem
antes que o levem
antes que ele se perca numa
estrada vazia antes
que ele desista
de sua própria vida
escrever um poema a um homem
antes que o joguem água fria
ácidos ou gás antes
que em praça pública
depositem sua cabeça
numa bacia
escrever um poema a um homem
escrito em caneta rosa
com ponta fina
um poema que toque
e o faça tocar
cada parte de sua estrutura
física
um poema que reduza a estatística
e que meu amor
traduz
antes que seja tarde
antes que o deus deles
apague sua luz
Essas questões aparecem, explicita ou implicitamente, a partir de várias forças. Uma mulher negra escrevendo sobre ancestralidade, corpo e desejo, ocupando esse lugar historicamente negado às mulheres. Uma mulher negra tecendo sua escrita feminista com instrumentos de memória e sentimento, trabalhando anseios e alívios a partir de suas vivências na contemporaneidade. Uma mulher negra escrevendo. Ato político desde a concepção.
E assim o livro vai se construindo com mais força a cada poema, firmando um lar sobre as águas. Esse lugar que pode ser uma memória, o corpo, um sentimento, uma experiência partilhada e tudo junto. Ou mesmo uma casinha quente e confortável – como disse Beyoncé, “lar é onde estiver o coração”.
Em idos de março, meses antes do lançamento, eu comentava a urgência das vozes nos poemas em correspondência com Bianca. Vozes já presentes nos textos que eram publicados no estive em SP e não me lembrei de você, blog que ela gerenciava, salvo engano, desde 2014. No meu caso, a identificação foi instantânea. Hoje leio o seu livro com a mesma sensação e penso: quantas vozes ecoam pr’além da minha na leitura destes poemas? É possível seguir. Não estamos sozinhos.
Em tempos de resgate da censura, os mil altânticos inspiram mudança e incômodo diante da sociedade. Saio outro de uma leitura que coloca possibilidades e reforça a ideia de que não estamos sozinhas/sozinhos. É possível seguir escrevendo. Agora mais do que nunca.
Como se pesassem mil atlânticos pode ser adquirido através do site da editora Urutau ou da Livraria da Travessa.
Marcadores:
Lendo mulheres,
Lendo mulheres negras,
Literatura,
Poesia,
Resenha
Assinar:
Postagens (Atom)