[Contém spoilers de "Showgirls" (1995), "Striptease" (1996), "Suspiria" (2018), "A substância" (2024) e infomerciais Polishop]
 |
| Demi Moore em Striptease (1996). Fotografia: Kerry Hayes. © 1996 Castle Rock Entertainment (reprodução) |
O cinema dos anos 1990 bombardeou a audiência madura com comédias, dramas e thrillers eróticos de baixo rendimento que, se à época foram criticados pelo desenvolvimento de suas personagens, atualmente detêm o status de obras cult. Showgirls (MGM, 1995) e Striptease (Columbia Pictures, 1996) são exemplos expressivos ― ambos os roteiros costuram problemas familiares e financeiros às aspirações profissionais das protagonistas, Nomi Malone (Elizabeth Berkley) e Erin Grant (Demi Moore), respectivamente, fortemente amparados na fetichização do consumo da imagem feminina.
Na década de 2000, o público secundário dessas películas herdou certa familiarização com lap dance, pole dance e stripping, temas particularmente interessantes para adolescentes gays afeminados e retraídos em processo de autodescoberta. Não pude localizar a data de estreia de Showgirls no Brasil, mas Striptease foi exibido pela primeira vez na TV aberta em 2 de maio de 2000, sob exclusividade do SBT, no longevo Cine espetacular. A nudez de Demi Moore garantiu ao canal de Silvio Santos 38 pontos de audiência em horário nobre, superando atrações nacionais e já consolidadas no monopólio Global. Com efeito, não foi a massa de gays afeminados curiosos o grupo responsável pelo registro do recorde.
Naquela época, apesar de ainda não saber muito sobre mim, entendia meu interesse por esses filmes na contramão dos que buscavam na nudez de uma das atrizes mais esnobadas pela alta cúpula da crítica misógina de cinema algum alívio sexual. Estava na mesma atmosfera de captura encabeçada por Moore, impactando colegas de elenco, figurantes e público real, mas pela via do desejo de também exercer aquela hipnose gestual da dançarina exótica.
 |
| Demi Moore, em Showgirls (1995), com o clássico biquíni de paetês. © 1996 Castle Rock Entertainment (reprodução) |
Movimentos sensuais e coreografados, pouquíssima ou quase nenhuma roupa (quando as showgirls exibem a pele sob os figurinos de Ellen Mirojnick, carregados de fúscia, lilás, dourado, robes com penas de avestruz, lantejoulas, cristais, amarrações, animal print, muita transparência e Versace) atiçam a atenção masculina. Mas ao subir nos palcos, tanto Nomi quanto Erin se tornam entidades, totens quando o arco das costas ou o interior das coxas friccionam a barra, o chão, as cadeiras e outros meios de extensão do corpo na dança e no pleasing. O fetiche do controle se revela aqui, pois o feminino oferece apenas o necessário à gestão dos próprios interesses, a excitação e a imaginação masculina são, no máximo, consequências, nunca finalidades.
 |
| Elizabeth Barkley em Showgirls (1995) Fotografia: Mary Ellen Mark. © 1995 United Artists Pictures Inc. (reprodução) |
De um ponto de vista feminino, são a segurança e o controle do corpo na direção dos próprios desejos (seja a obtenção de condições financeiras para retomar a guarda da filha, no caso de Striptease, ou tornar-se a persona envolta em glamour da dançarina de Las Vegas, como em Showgirl) que exercem o verdadeiro poder. O mover da barra dos limites do saudável na imaginação masculina para o doentio é saldo histórico de dominação sem justificativa plausível e na qual o homem jamais poderia se ver sem as rédeas do próprio desejo, ao custo de ter subjugados os do Outro. Tanto que os diretores tentam replicar esse movimento para satisfazer o público prioritariamente masculino, sem reconhecer a autodeterminação da potência feminina.
Então, enquanto homens gays afeminados em processo de autodescoberta, como aquela massa dos anos 2000, poderíamos recusar a ânsia de despir o corpo como forma de produzir arte e, sem hipocrisia, negar a consequência de nos sentirmos desejados, reforçando e reconhecendo a força dessa inversão também presente no feminino já pulsante em nós? Como negar o potencial do erótico na dança que inocula o corpo de segurança para se perceber como espaço de transformação e regulação da autoestima?
Em meio a tantas outras artes, a dança tem valor afetivo muito especial e sempre presente na minha vida ― muitas vezes “no escuro”, dentro do banheiro ou atrás da Kombi de meu avô no quintal de casa , lugares onde ninguém poderia me ver rebolar ―, porque minha avó, mesmo diante dos julgamentos e dos punhos das outras crianças da rua contra o meu estômago, entendeu junto de mim o seu significado. E, mesmo com todos esses medos, me ofereceu e bancou a matrícula no meu primeiro curso.
Permaneci dançando após a sua morte ― as quadras e salas de escolas dando lugar aos estúdios profissionais, com aparato diferencial e adequado ao nível de complexidade de danças mais exigentes, verdadeiros espaços de análise. Você já experimentou estar numa sala revestida de espelhos fazendo um solo sob orientações precisas e sérias? É como estar nu e observar cada detalhe, cada dobra de pele flácida pós-emagrecimento, até as feridas mais recônditas, dores-movimento executadas quase como numa reelaboração dos traumas (pense a sequência de dança em que Susie Bannion (Dakota Fanning) executa Olga (Elena Fokina) no remake de Suspiria (K Period Media/Amazon Studios, 2018), de Luca Guadagnino).
Com o tempo, a vida me distanciou desses espaços. Deixei de frequentar as aulas, engavetei minhas joelheiras, os shorts de cintura alta, os meiões, as calças de lycra, os croppeds... A gestão do desejo de dançar ficou restrita às preliminares entre quatro paredes até muito recentemente, quando passei a dançar sem companhia, improvisando na sala de casa, e a filmar os processos. Tenho essa lista de “músicas para performar” em crescendo ― ora regada por batidas lentas, ora por guitarras ―, sem deixar de lado os vocais soprados, os falsetes, os sussurros e suspiros, os gemidos roucos e plenos de erotismo, condutores das mãos e dos dedos no redesenho do corpo.
 |
| Autorretrato pós-dança (março de 2025) |
E isso nos leva de volta ao cinema, agora pelo viés do culto à beleza, à saúde e à juventude (assim mesmo, em conjunto), gerando o reencontro com Demi Moore, cansada e vivendo Elizabeth Sparkle, em enredo altamente metalinguístico por tê-la como uma das atrizes principais, a outra sendo Margaret Qualley, sua contraparte em A substância (MUBI & Working Title, 2024), da francesa Corale Fargeat. Em relação simbiótica, elas se complementam na mesma medida em que isso implica o processo contínuo de autoanulação, culminando na decadência física de ambas.
 |
| Demi Moore e Margaret Qualley em A substância (2024). © 2024 MUBI & Working Title (reprodução) |
A aeróbica, alvo da dedicação da vida da(s) protagonista(s), é carregada de apelo sexual e remete aos home videos famosíssimos nos EUA de 1980 e 1990, um mercado fitness encabeçado por Jane Fonda, Rachel Welch e Cathy Lee Crosby, para citar algumas. Na música, tivemos Olivia Newton-John e seus dançarinos suados em collants de lycra e sungas microscópicas no vídeo de Physical
(Geffen, 1981), algo reavivado por Madonna com o vídeo de Hung Up (Warner Bros., 2005).(Adendo: o Brasil não ficou de fora da fitness mania, basta lembrar de Solange Frazão e Nana Gouveia, percursoras do abdome feminino trincado na TV. Os menos dados ao exercício físico assistiam a esses programas coçando o saco, comendo Cheetos, lambendo os dedos, e engordurando os botões de suas cintas tonificadoras Polishop, que prometiam resultados milagrosos por meio de um sistema de vibração — o mundo sempre nutrindo as necessidades masculinas com toda a satisfação possível).
E como a vida imita a arte, Fargeat, autora de crítica sagaz e inteligente a todas as problematizações acerca do feminino levantadas neste texto (não pense a leitora ou o leitor que elas estão distantes de nós só porque não explodimos em pedaços no terceiro ato), perdeu o Oscar de melhor direção para Sean Baker, de Anora (Neon, 2024) ― outro filme explorando a imagem da stripper subjugada por problemas mediados por presenças masculinas. Anora é mais um exemplo vazio de significado e apoiado no sexploitation da personagem feminina de autonomia cerceada desde as decisões mais primárias da direção.
Por que seguimos dançando no escuro, em silêncio e vestidos do pescoço aos pés, se o que dançamos são nossos direitos e o prazer do pleno exercício de ser quem somos e não o que esperam de nós?
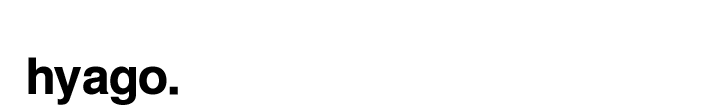
Nenhum comentário: