por Anna Carastathis
 |
| Vessel of Genealogies (2016), de Firelei Báez |
O que as intersecções têm a ver com o feminismo? Ou com as nossas vidas como mulheres e garotas? Bastante, ao que parece.
Talvez você já tenha escutado esse termo em alguma sala de aula ou espaço de ativismo feminista por aí. Talvez não, mas sinta alguma frustração com a forma como as generalizações sobre mulheres e garotas realmente não descrevem suas próprias experiências.
Talvez você já tenha sido convidada a focar num determinado aspecto de si e a ignorar os outros. Talvez já tenham dito que sua identidade é muito complexa para o feminismo, ou talvez você tenha percebido que algumas correntes feministas opõem sua identidade de mulher ou menina às suas demais identidades.
Talvez você já tenha se questionado, “como as minhas diferentes identidades se relacionam”? Quais partes da minha identidade são relevantes para o feminismo enquanto movimento para acabar com a opressão de mulheres e garotas? Porque algumas delas parecem ter maior relevância enquanto outras são descartadas ou ignoradas na organização feminista?
Meu nome é Anna Carastathis. Eu vivo em Montreal, estudo e ensino teoria política feminista nas universidades McGill e Concórdia.
Hoje vou falar da interseccionalidade como linguagem da identidade forjada através de relações sociais sistemáticas de opressão e privilégio.
Eu abri este ensaio elencando algumas experiências às quais a interseccionalidade tenta responder.
No que se segue, vou explicar o que quer dizer “interseccionalidade”, de onde vem e como ela pode ser usada para fazer do feminismo um movimento que fale por todas nós, não apenas mulheres privilegiadas que são capazes de usurpá-lo pelos seus interesses particulares.
Para isso talvez tenha de usar algumas palavras que vão te fazer dizer “o que foi que você disse…?”. Quando você estiver num momento “o que foi que você disse?”, dê uma olhada no glossário no final da postagem, isso te dará definições para alguns dos termos técnicos que vou usar (role para baixo, bem para baixo…).
⁂
O termo “interseccionalidade” foi cunhado a partir de uma metáfora pela crítica e teórica do Direito Kimberlé Williams Crenshaw para explicar como as opressões de raça e gênero interagem na vida das mulheres negras.
Considere a analogia ao tráfego num cruzamento [intersection], indo e vindo nas quatro direções. A discriminação, como o tráfego no cruzamento, pode fluir numa ou noutra direção. Se um acidente acontece no cruzamento, sua causa pode ser os carros viajando de quaisquer direções e, as vezes, de todas elas. De modo similar, se uma mulher negra sofre injúrias por estar numa intersecção, elas podem resultar da discriminação sexual ou racial […] Mas nem sempre é fácil reconstruir um acidente: às vezes as marcas de derrapagem e as lesões indicam simplesmente que elas ocorreram simultaneamente, frustrando os esforços em determinar qual o motorista responsável (Kimberlé Williams Crenshaw, 1989, p. 149).
Nos anos 1980, Crenshaw tentava entender porque as leis antidiscriminatórias nos EUA falhavam em proteger as mulheres negras nos espaços de trabalho, e ela descobriu que a causa disso era a distinção que a lei fazia entre dois tipos de discriminação: a de gênero e a de raça.
Isto é, a lei dos EUA distinguia entre a discriminação contra a mulher (com base em seu gênero) e a discriminação contra pessoas negras, latinas, asiáticas e indígenas (com base em sua raça).
Mas, em seus estudos sobre discriminação nos postos de trabalho, Crenshaw observou que as mulheres negras eram discriminadas de ambas as formas — por seu gênero e raça — ao mesmo tempo.
Então, por exemplo, as mulheres negras foram o último grupo a ser contratado no ambiente de trabalho por ela estudado — depois das mulheres brancas e dos homens negros. Quando o chefe decidiu fazer um corte de pessoal, essas mulheres foram demitidas por serem as últimas na escala de cargos — as últimas a chegar. Mas aquela contratação tardia em si ocorreu devido à discriminação. Esse grupo de mulheres negras levou a companhia ao tribunal e o juiz disse: “não houve discriminação de gênero aqui porque as mulheres brancas não foram demitidas. E não houve discriminação racial porque os homens negros não foram demitidos.”
Crenshaw concluiu que a discriminação contra as mulheres negras nos espaços de trabalho — como mulheres negras — era invisível nos conceitos legais que viam em termos de “gênero” ou “raça” apenas. As experiências de discriminação das mulheres negras foram invisibilizadas por esse modo de categorização das práticas discriminatórias.
Crenshaw argumentou que algo similar ocorreu nos movimentos feministas nos EUA. As pautas das mulheres negras — e as pautas de outras mulheres de cor, lésbicas e brancas da classe trabalhadora — tornaram-se invisíveis enquanto as mulheres brancas privilegiadas definiam “discriminação de gênero” e “opressão de gênero” nos termos de suas próprias experiências. Elas generalizaram tais experiências alegando que eram compartilhadas por todas as mulheres. Mas não eram.
O problema era (e é) que, apesar de as mulheres de cor, lésbicas, e as mulheres da classe trabalhadora terem sido sempre ativas no feminismo nos EUA e Canadá, o movimento foi dominado pelas mulheres brancas da classe alta que se identificavam com os homens e com o poder do homem branco.
Elas não estavam dispostas a negociar o poder que obtinham por serem esposas, mães, filhas e irmãs de homens brancos influentes para forjar uma verdadeira união com as mulheres de cor e as brancas da classe trabalhadora. Em outras palavras, elas não estavam dispostas a desistir dos poucos privilégios obtidos através da lealdade ao homem branco e à branquitude para lutar pela liberação de todas as mulheres (Adrienne Rich, [1978] 1979.)
bell hooks escreve que
Como mulheres, particularmente […] mulheres brancas privilegiadas, começaram a obter poder de classe sem se livrar do sexismo internalizado, as divisões entre mulheres se intensificaram. Quando as mulheres de cor criticaram o racismo na sociedade como um todo e chamaram atenção para as formas como o ele moldou e informou a teoria e a prática feminista, muitas mulheres brancas simplesmente deram as costas a visão de irmandade, fechando suas mentes e corações. E isso foi verdadeiramente igual quanto à questão do classismo entre as mulheres (bell hooks, 2000, p. 16–17).
Apesar da diversidade de mulheres no movimento feminista, e da crescente divergência entre os interesses delas, as feministas brancas privilegiadas tomaram o movimento pelos seus próprios interesses imediatos. Deixa eu te dar três exemplos.
⁂
(1) Primeiro exemplo: direitos reprodutivos.
Feministas brancas privilegiadas lutaram por direitos reprodutivos como o aborto e a contracepção adequada, sob a bandeira da “escolha”, mas ignoraram a difusão da esterilização forçada de mulheres negras e indígenas, bem como das mulheres com deficiência, nos EUA e Canadá.
Pior ainda, algumas campanhas pelo direito ao aborto defendiam a esterilização involuntária de mulheres pobres e de cor. Para as mulheres brancas, o controle de natalidade ocorria paralelamente ao controle populacional de comunidades pobres e de cor (primariamente indígenas, negras e pessoas brancas pobres).
Por exemplo, Margaret Sanger, a fundadora do Planned Parenthood, esqueceu sua origem na classe trabalhadora e traiu sua militância política anterior quando defendeu, nas décadas de 1920 e 1930, a esterilização “estratégica” de mães “inaptas” (Angela Davis, 1981, p. 212–215).
De acordo com a Women of All Red Nations (WARN), uma organização feminista indígena, 50% das mulheres de Primeira Nação nos territórios ocupados pelos EUA foram esterilizadas nos anos 1970, e esse índice foi maior do que 80% em algumas reservas (Andrea Smith, 2005, p. 82–83).
No Canadá a esterilização de mulheres indígenas foi similarmente difundida. Contudo, as estimativas são menos precisas, em parte porque os registros foram deliberadamente destruídos pelos administradores dos hospitais. Em Alberta, a Lei de Esterilização Sexual foi aprovada em 1928 pela Assembléia Legislativa da província. Sob essa aprovação, mais de 4.000 casos foram ouvidos pela Alberta Eugenics Board. O documento legalizou a esterilização forçada de mulheres consideradas “mentalmente deficientes” e isso foi usado contra as indígenas (incluindo as Métis) e outras mulheres racializadas. Uma das propositoras da lei foi Emily Murphy, feminista de primeira-onda, que também foi a primeira mulher magistrada no Império Britânico. A Lei de Esterilização vigorou até os anos 1970, sendo revogada em 1972.
(2) Segundo exemplo: trabalho.
Feministas brancas privilegiadas lutaram pela ampliação do acesso a empregos que eram dominados pelos homens, ignorando o fato de que as mulheres de cor, as imigrantes e as brancas da classe trabalhadora estavam sendo sobrecarregadas, por vezes em lugares distantes de suas famílias, apenas para sobreviver e sustentar os filhos — as vezes nas casas de feministas brancas, limpando seu chão e cuidando de suas crianças.
Para as feministas privilegiadas, a “dupla jornada” se tornou o problema: trabalhando de dia numa atividade profissional e chegando em casa à noite apenas para trabalhar mais, cuidando de seus maridos e filhos.
Para reduzir essa carga, ao invés de demandar que seus maridos tomassem a parte que lhes cabia, ou que o Estado provesse assistência infantil adequada e acessível, o trabalho doméstico foi deixado a cargo das mulheres de cor. Desde o final do século XIX o governo canadense toca uma série de programas recrutando mulheres migrantes para o trabalho doméstico no Canadá (veja a linha do tempo abaixo, “Trabalho doméstico estrangeiro assalariado no Canadá”).
O atual programa de governo para recrutamento de trabalhadoras domésticas migrantes se chama “Live-in Caregiver Program” (LCP). Em 2005, entre 7.000 e 8.000 mulheres trabalhavam no Canadá por meio desse programa. 82% delas vinham das Filipinas. Através do LCP as trabalhadoras podem entrar e residir no país, sob a condição de que morem na casa de seus empregadores e executem serviços domésticos.
As trabalhadoras do LCP podem requerer o status de imigrante assentada após 2 anos de trabalho em tempo integral dentro de 3 anos do seu desembarque no Canadá. Mas não há garantias de que elas (ou suas famílias) tenham permissão para imigrar.
Isso configura uma situação injusta na qual as mulheres participantes do LCP são “boas o suficiente para trabalhar, mas nem tão boas assim para ficar” definitivamente no Canadá.
Para Harsha Walia,
A prática do Estado [canadense] de negar permanentemente o status legal à maioria [de trabalhadoras migrantes] garante que um crescente número de migrantes constitua uma mão-de-obra altamente explorável […] Mulheres migrantes de cor no trabalho temporário experimentam mais diretamente a hipocrisia da democracia liberal que promete oportunidades enquanto cria categorias de trabalhadores explorados” (Harsha Walia, 2006. p. 24–25).
Grupos como o PINAY, em Montreal, e o INTERCEDE, em Toronto, lutam contra esses programas discriminatórios e exploratórios de trabalho temporário e fornecem recursos e apoio às mulheres neles inseridas. Mas o movimento feminista mais amplo não tomou parte em exigir do governo o status de cidadãs para as trabalhadoras migrantes ou — a curto prazo — a melhoria de suas condições de trabalho.
As mulheres acabaram se dividindo no que diz respeito ao trabalho, não apenas devido a algumas delas obterem vantagens da exploração de outras (como as trabalhadoras domésticas em suas casas, por exemplo), mas também pelas suas escolhas sobre como combater a exploração patriarcal. Ao invés de lutar contra a dependência opressiva dos homens sobre as mulheres, elas contrataram outras mulheres para fazer o trabalho desvalorizado que, na nossa sociedade, é chamado de “trabalho de mulher”. Ou, quando enfrentaram os homens no tocante ao trabalho doméstico, por exemplo, demandando salários para tal atividade, elas ignoraram a exploração das mulheres que já recebiam por isso.
⁂
(3) Terceiro exemplo: o Estado.
As mulheres brancas privilegiadas lutam por representação política no governo e noutras instituições estatais — elas lutam, por exemplo, por mais mulheres entre os membros do parlamento (MPs) no Canadá, ou mais juízas na Suprema Corte. No parlamento atual, apenas 21% dos MPs são mulheres. Menos ainda, em torno de 6%, são pessoas de cor. Ainda menos 1,9% (ou seis MPs) são identificados como indígenas.
Mas esse tipo de luta feminista por melhor representação política ignora o modo como o Estado canadense — um Estado colonial construído em terras indígenas roubadas — oprime sistematicamente as mulheres das Primeiras Nações e explora o trabalho das imigrantes.
Ter mais mulheres (brancas) no parlamento confere legitimidade ao governo Canadense. Quer dizer, isso faz parecer que o governo pode fazer coisas boas pelas mulheres, desde que administrado pelas pessoas certas.
Mas as mulheres indígenas cujos ancestrais foram deslocados de seus territórios e forçadamente direcionados às reservas, desligados de sua espiritualidade, suas linguagens e sistemas de governo, cujas crianças foram tomadas e colocadas em escolas residenciais ou lares adotivos brancos, enxergam de outra forma o governo canadense, responsável por todas essas coisas.
Elas sabem que esse governo é ilegítimo, e sabiam que ter mais mulheres nos parlamentos não poderia mudar isso. O problema era estrutural, não pessoal.
Patricia Monture-Angus diz que
Entender como o patriarcado opera no Canadá sem compreender a colonização é um esforço sem sentido na perspectiva dos aborígenes. O Estado canadense é o perpetuador masculino invisível que, diferente dos homens aborígenes, não tem a face de vítima. E aos pés do Estado eu posso depositar minha ira para descansar. Ser capaz de nomear o Estado como meu opressor tem me permitido adotar uma posição fora do ciclone pessoal de dor que uma vez saiu do controle em minha vida. […] o colonialismo deve ser incorporado às analises feministas. O movimento das mulheres nunca tomou como central e objetivo a longo prazo a erradicação da opressão legal específica das mulheres aborígenes (Patricia Monture-Angus, 1995, p. 175).
Mesmo algo como a conquista do voto, que é vista como a grande conquista do Feminismo de Primeira-onda, se revela como uma manobra poderosa que divide as mulheres entre as vertentes de raça, classe e indigeneidade.
Quando nós dizemos que “as mulheres puderam votar a partir do ano de 1918 no Canadá”, a quais mulheres estamos nos referindo? O direito ao voto não deixou de ser restrito pela raça até 1963. As mulheres que conseguiram votar em 1918 eram brancas e da classe dos proprietários privados.
Seu progresso se baseou na exclusão e na opressão de outras mulheres.
As mulheres no Québec não puderam votar até 1940. Indo e chino-canadenses tiveram o direito ao voto negado até 1947. Nipo-canadenses só tiveram permissão para votar um ano depois, em 1948.
As pessoas indígenas não podiam votar no Canadá até 1960. Mas a sua emancipação foi uma estratégia adotada pelo Estado para assimilá-las à sociedade canadense, parte de uma agenda para privá-las de seus direitos do tratado como membros das Primeiras Nações.
A interseccionalidade é um modo de levar em consideração todos os fatores que, juntos, definem nossas identidades políticas: nosso gênero, nossa raça e etnia, nossa classe e status na sociedade, nossa sexualidade, nossas capacidades físicas, nossa idade, nossa condição nacional, e por aí vai.
Como vimos, as feministas brancas privilegiadas deturpavam uma política que defendia seus interesses específicos como uma política que atuava pelo bem de todas as mulheres.
A interseccionalidade tenta dar visibilidade aos múltiplos fatores que estruturam nossas experiências de opressão e contra quais nós temos de lutar.
Alguns desses fatores são compartilhados por nós enquanto mulheres, outros não.
Mas a intensão da interseccionalidade é demonstrar como nossas experiências como mulheres são interconectadas. Frequentemente somos postas contra outras mulheres pelos sistemas patriarcal e racista de poder.
Por exemplo, como vimos, na negociação das políticas de trabalho doméstico em seus relacionamentos heterossexuais, as mulheres brancas da classe dominante foram encorajadas pelo Canadá a contratar trabalhadoras através do LCP.
A interseccionalidade pode nos ajudar a entender como os sistemas de poder engendram — por exemplo, a relação entre o legado do colonialismo e do imperialismo nas Filipinas e no Caribe com as políticas neoliberais que privatizaram e feminizaram o trabalho doméstico no Canadá.
Se esses elementos não parecem relacionados, a interseccionalidade nos mostra o contrário, e que eles moldam as relações entre as mulheres (entre uma mulher canadense de classe alta e a trabalhadora migrante das Filipinas ou do Caribe que ela contrata por meio do LCP, por exemplo).
Dê uma olhada no diagrama abaixo, que mostra os fatores que devemos considerar para uma análise integrativa do trabalho doméstico migrante no Canadá.
A interseccionalidade também nos auxilia a ver o problema no que Elizabeth (“Betita”) Martinez chamou de “Olimpíadas da Opressão”: ou seja, a ideia de que as opressões podem ser quantificadas e que algumas são piores do que as outras. Então, nessa perspectiva, o indivíduo “mais” oprimido “venceria” as “Olimpíadas da Opressão”, além de conquistar o primeiro lugar no pódio da “Hierarquia das Opressões” (ver Elizabeth (“Betita”) Martinez, 1993).
A sugestão de Martinez e outros é contra-produtiva para a organização contra a opressão. Sobre este ponto, Mary Louise Fellows e Sherene Razack argumentam que “qualquer teoria, estratégia ou prática baseada [nas Olimpíadas da Opressão] será inevitavelmente falha porque isso ignora as relações entre os sistemas hierárquicos” (ver Mary Louise Fellows e Sherene Razack, 1998. p. 335).
A interseccionalidade não apenas ressalta as diferenças entre as mulheres. Ela também dá visibilidade ao que nós temos em comum. De modo mais específico, revela nossos inimigos comuns: os sistemas simbióticos de relações de poder (raça, classe e gênero) que precisam uns dos outros para funcionar.
Isso significa que, para destruir o patriarcado e eliminar o sexismo e a heteronormatividade de nossa sociedade, nós também precisamos destruir a supremacia branca e o colonialismo (e eliminar o racismo) e o capitalismo e o imperialismo (e acabar com a exploração de classe).
Enquanto algumas de nós são privilegiadas por essas relações de poder e pela opressão das outras, uma abordagem interseccional pode demonstrar que tais privilégios são parte de uma estratégia para dividir e conquistar que visa nos distrair na identificação de quem realmente detém o poder na sociedade.
Audre Lorde escreve que muitas de nós que temos algum tipo de privilégio social (advindo da branquitude, classe, gênero ou do fato de sermos cidadãs de um Estado imperialista no hemisfério norte) somos “seduzidas a nos unirmos ao opressor com a pretensão de compartilhar o poder” (Audre Lorde, [1980] 1984. p. 118).
Essa ideia de que podemos “compartilhar o poder” com a elite de nossa sociedade induz algumas feministas a pensarem que elas podem alcançar sua liberação as custas de outras mulheres. E são esses privilégios que realmente funcionam como estímulos e armadilhas para que nos juntemos ao nosso opressor para oprimir outros, privilégios que obtemos em virtude da nossa classe social, da nossa branquitude, do nosso nível de educação, da nossa nacionalidade, da nossa (hétero)sexualidade, dentre outros.
Mas as feministas que buscam uma total transformação social, que querem que a sociedade seja completamente diferente do que é agora, não deveriam se deixar “seduzir pelo opressor”.
A interseccionalidade é uma estratégia que pode revelar as reais conexões entre experiências aparentemente desconexas de opressão tidas pelas mulheres.
Audre Lorde sugere que é nossa responsabilidade como feministas perceber essas conexões. Somente assim poderemos entender que a liberação de um grupo oprimido não pode acontecer sem a liberação de todos os oprimidos.
É assim que Audre Lorde se coloca:
Eu sou uma mulher lésbica e de cor, cujos filhos podem se alimentar regularmente porque trabalho numa universidade. Se seus estômagos cheios me fizerem falhar em reconhecer o que tenho em comum com uma mulher de cor que não come porque não consegue arrumar emprego, ou que não tem filhos porque suas entranhas estão massacradas pelos abortos domésticos e esterilização; se eu falhar em reconhecer a lésbica que escolheu não ter filhos, a mulher que permanece no armário por viver numa comunidade homofóbica que é seu único suporte na vida, a mulher que escolhe o silêncio ao invés de outra morte, a mulher que teme que a minha ira sirva de gatilho para a sua; se eu falhar em reconhecê-las como outras faces do meu eu, então não vou estar contribuindo apenas com a opressão de cada uma mas também com a minha, e a raiva que nos separa deve ser usada para a clareza e empoderamento mútuos, não para evasão pela culpa ou uma separação adicional. Eu não serei livre enquanto qualquer mulher não for livre, mesmo que seus grilhões sejam muito diferentes dos meus. E eu não serei livre enquanto uma pessoa de cor permanecer acorrentada. Nenhum de vocês será (Audre Lorde, [1980] 1984, p. 132–133).
⁂
Então, para resumir. Todas nós temos identidades interseccionais que são moldadas através de sistemas de relações de poder, e também pelas experiências de opressão.
Se o feminismo se quer uma verdadeira política que busca a liberdade de todas as pessoas, ele deve reconhecer a importância dessa ideia: de que “eu não serei livre enquanto qualquer mulher não for livre, mesmo que seus grilhões sejam muito diferentes dos meus” — que eu não serei livre enquanto qualquer pessoa oprimida permanecer acorrentada.
As feministas brancas privilegiadas envolvidas nos movimentos nos Estados Unidos e Canadá falharam em perceber isso e continuaram generalizando suas experiências específicas como experiências de todas as mulheres. Elas se tornaram presas das estratégias para “dividir e conquistar” que as distraíram de compreender qual a verdadeira origem de sua opressão e como os privilégios a elas garantidos pela sua raça, classe, heterossexualidade e estatuto nacional se baseavam na opressão de outras mulheres.
A interseccionalidade nos auxilia a compreender como gênero, classe, raça e outros fatores se combinam na nossa experiência. Auxilia na criação de melhores políticas feministas que busquem a emancipação de todas as pessoas — não apenas de uma elite minoritária de mulheres privilegiadas.
Nos ajuda a entender que compartilhamos alguns problemas, como mulheres e garotas, e outros não. Mas o que todas nós compartilhamos como pessoas oprimidas é um inimigo em comum: um opressor compartilhado.
Abordagens interseccionais na teorização e ativismo feministas podem auxiliar na superação do problema das “Olimpíadas da Opressão” e da necessidade de focar em um único aspecto das nossas identidades ao custo de ignorar outras.
A interseccionalidade pode nos ajudar a entender o feminismo como um projeto muito mais amplo do que o que foi construído pelas feministas brancas privilegiadas nos EUA e Canadá.
Pode nos mostrar que, como feministas, precisamos ser antirracistas, precisamos nos opor ao colonialismo (começando pelo colonialismo interno no Canadá e Estados Unidos de Primeiras Nações), ao imperialismo e à globalização corporativa, e defender os direitos dos trabalhadores para determinar suas condições de trabalho.
Como feministas, precisamos imaginar alternativas ao modo de produção capitalista para o suprimento das necessidades em nossa sociedade. Precisamos reconhecer que a guerra e a dominação violenta são o outro lado da “rotina”, e que nunca conheceremos a paz verdadeira até que vejamos promulgada a justiça na nossa sociedade.
A interseccionalidade pode nos mostrar as conexões entre as guerras imperialistas no Iraque e no Afeganistão, a guerra contra os povos indígenas que lutam por autodeterminação no Canadá e Estados Unidos, a guerra contra as mulheres, assalariadas aqui e em todo lugar, por meio de violência de gênero e racializada, pobreza e exploração.
E ela pode nos ajudar a criar políticas feministas que incorporem nossas aspirações para um mundo completamente diferente.
⁂
O que foi que você disse?
Tendo um momento “o que foi que você disse?” Dê uma olhada nesse glossário para uma definição rápida de algum termo técnico complicado.
Glossário
Capitalismo: um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Estruturalmente caracterizado pela expropriação dos produtos do trabalho da classe trabalhadora (ou “proletariado”) pelo capitalista ou classe dominante (ou “burguesia”) em troca de salários. A classe trabalhadora produz “mais-valia” (lucro) para a classe capitalista — também conhecida como “capital”. O capital tem duas tendências: a tendência a se expandir em (ou produzir) novos mercados (através do imperialismo e da colonização) e a tendência à concentração em cada vez menos mãos. Como consequência desta última, o capitalismo é tipicamente caracterizado pela extrema desigualdade (ou lacuna) entre ricos e pobres.
Classe: a relação de um grupo de pessoas com os meios de produção. Na economia política capitalista, há duas classes: o proletariado, ou classe trabalhadora, e a burguesia, ou classe dominante. Essa (burguesia) detém os meios de produção enquanto a outra (proletariado) não.
Colonização: um processo violento pelo qual cada Estado-nação toma o controle político e econômico sobre outro Estado-nação ou sociedade indígena, expropriando seus recursos, administrando ou governando localmente, e povoando ativamente a região com seus próprios cidadãos.
Dominação: o exercício de poder de um grupo social sobre outro.
Exploração: estritamente, a extração de lucro do trabalho assalariado. Geralmente utilizado para se referir a qualquer relação na qual uma parte ou grupo se beneficia injustamente do trabalho ou das atividades de outro.
Heteronormatividade: a imposição das relações heterossexuais em oclusão de todas as outras possibilidades de desejo e expressão sexuais.
Imperialismo: um sistema global de dominação exercido através da propriedade privada (capital), poder militar, e instituições globais (como o WTO ou o IMF), por meio do qual a riqueza é drenada do trabalho e dos recursos dos povos no hemisfério sul em prol do capital (i.e., da classe dominante) no hemisfério norte. Um Estado-nação é imperialista se a classe dominante e o aparato estatal perpetuam e se beneficiam sistematicamente desse sistema estrutural de desigualdade global.
Opressão: a constelação de relações econômicas, políticas e psicossociais estruturais que sistematicamente confinam ou reduzem as escolhas de vida de determinado grupo social, frequentemente através da apresentação de membros do grupo social oprimido com um conjunto de “duplo vínculo”: isto é, escolhas entre resultados igualmente problemáticos. [Ver também privilégio].
Privilégio: vantagens sistematicamente conferidas aos membros de um grupo social, em virtude da sua [Ver também opressão].
Grupo social: coletivo de pessoas similarmente localizadas vis-à-vis com outro coletivo em relações sociais estruturais de privilégio e opressão; um grupo existe apenas em relação a pelo menos um outro grupo e é caracterizado por uma experiência de privilégio/opressão. Os indivíduos são “sempre” membros de um grupo social e são constituídos assim por associação.
Relações sociais: padrão de interação entre grupos sociais (p.ex., racismo, classe e sexismo).
Supremacia branca: sistema de poder racializado, articulado com o sistema de classes, que confere sistematicamente privilégios de algum modo para pessoas brancas de todas as classes econômicas, gêneros e sexualidades.
Estado de povoamento branco: um termo utilizado para referenciar os Estados-nações contemporâneos que não foram descolonizados, mas que permanecem sendo povoados e controlados pelos descendentes dos colonos europeus (e brancos chegados mais recentemente)e que exibem relações de classe racializadas típicas da formação social supremacista (p.ex. Canadá, Austrália).
Fonte: extraído de “Glossary”, por Anna Carastathis e Anna Feigenbaum. Criado em 2006 como parte do currículo de “Introduction to Women’s Studies”, Women’s Studies Program, Universidade McGill.
Referências
Kimberlé Williams Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics” in University of Chicago Legal Forum. 1989.
Angela Davis, “Racism, Birth Control and Reproductive Rights” in Women, Race, and Class. New York: Vintage. 1981.
Mary Louise Fellows and Sherene Razack, “The Race to Innocence: Confronting Hierarchical Relations among Women” in Journal of Gender, Race, and Justice 1. 1998.
bell hooks, Feminism is for Everybody. Cambridge: South End Press. 2000.
Audre Lorde, “The Uses of Anger: Women Responding to Racism” in Sister Outsider: Essays and Speeches. [1980] 1984.
Elizabeth (“Betita”) Martinez, “Beyond Black/White: The Racisms of Our Times” in Social Justice 20 (1/2). 1993.
Patricia Monture-Angus, “Organizing Against Oppression: Aboriginal Women, Law, and Feminism” in Thunder in my soul: a Mohawk woman speaks. 1995.
Adrienne Rich, “Disloyal to Civilization: Feminism, Racism, Gynophobia” in On Lies, Secrets and Silence: Selected Prose 1966–1978. New York: Norton. [1978] 1979.
Andrea Smith, “’Better Dead than Pregnant’: The Colonization of Native Women’s Reproductive Health” in Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide. Cambridge: South End Press. 2005.
Harsha Walia, “The New Fortified World: Colonialism, capitalism, and the making of the apartheid system of migration in Canada” in New Socialist №56. May/June 2006.
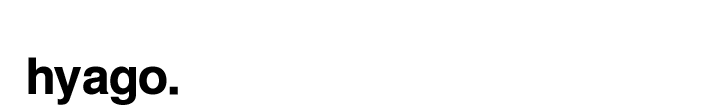


Nenhum comentário: